
Quando um artista do nível do português José Ruy, de 90 anos, fala de quadrinhos, é um privilégio ouvir. Afinal, ele tem 76 anos de carreira. Se contabilizar as HQs que fazia aos 5 anos e distribuía aos parentes, o número aumenta: são 85 anos de criatividade, com 53 livros já publicados por 13 editoras. E tem mais a caminho.
Não é à toa que José Ruy é um dos homenageados da edição deste ano do Festival de Amadora de Bandas Desenhadas, inaugurado na semana passada – evento que acontece de maneira virtual por conta da Covid-19.
É interessante ouvir Ruy falar sobre este universo com o qual convive há tanto tempo. Aliás, quando ele começou a carreira, o termo mais usado em Portugal era “histórias aos quadradinhos”, que caiu em desuso e foi substituído pelo “bandas desenhadas” (ou “BDs”) de hoje em dia. Nesta entrevista, ele comenta sobre suas influências, sua carreira e, inclusive, se prefere “histórias aos quadradinhos” ou “bandas desenhadas”.

Por favor, conte um pouco sobre o sr. Onde o sr. nasceu e cresceu? Como (e quando) o sr. começou a ler bandas desenhadas? Quem eram os personagens (ou autores) que o atraíam?
Nasci na Amadora em 1930, nessa altura uma Vila entre Lisboa e Sintra. Aos 5 anos de idade tive contacto com um jornal infantil, “O Mosquito”, e foi aí que apreciei as histórias ilustradas, os Quadrinhos.
Esse jornal publicava colaboração de origem inglesa e espanhola e eram os heróis dessas séries que me deliciavam.
Com o correr do tempo, o jornal teve como colaborador principal o português Eduardo Teixeira Coelho, que se celebrizou, não só no nosso país como no resto da Europa e também publicou no Brasil.
O sr. tinha acesso a BDs estrangeiras? Se sim, quais se destacavam?
Por volta de 1940 tive contacto com os quadrinhos estrangeiros, os norte-americanos Hal Foster, Milton Caniff e Alex Raymond e os espanhóis Jesus Blasco e Emílio Freixas. O Milton Caniff sensibilizou-me pela maneira como usava a cor, e o Alex Raymond pelo movimento, tal como o Emílo Freixas.
Em que momento o sr. decidiu que queria trabalhar com bandas desenhadas? Foi difícil para o sr. conseguir emprego nesse mercado?
Logo que vi os primeiros Quadrinhos, em 1936, fiquei apaixonado por essa maneira de contar histórias, e comecei a “fazer” jornalinhos – hoje chamam-se “fanzines” – que imprimia em copiógrafo de gelatina e distribuía pela família, amigos e colegas da escola. Portanto, desde os meus cinco anos.
Nessa época, não se podia viver de fazer este tipo de trabalho, por isso formei-me em Artes gráficas, tendo passado três anos em habilitação a Belas Artes, e os quadrinhos eram executados à noite e fins de semana. Com 14 anos ingressei no jornal “O Papagaio” e fiquei colaborador residente até ao seu fecho, em 1953. Em 1947, entrei para os quadros de “O Mosquito” como responsável pela execução das cores em litografia manual.
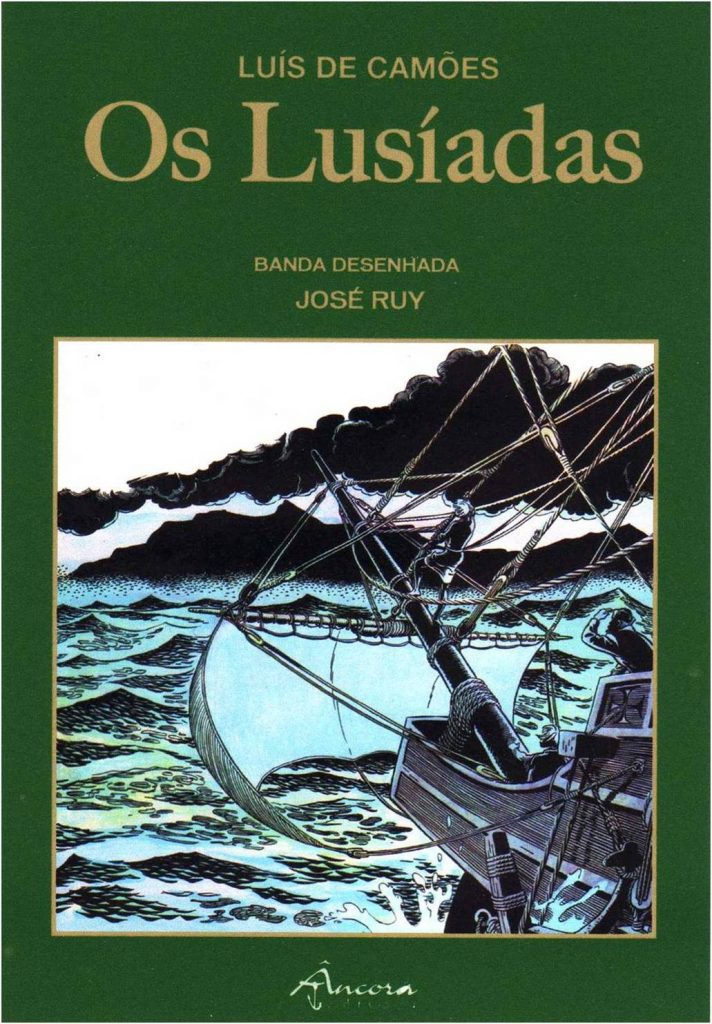
Quais foram seus primeiros trabalhos? E em que momento o sr. se sentiu seguro nessa profissão? Dessa primeira fase, qual o trabalho do qual o sr. mais se orgulha?
O meu primeiro trabalho impresso foi nas páginas centrais de “O Papagaio” alusivo ao Natal de 1944. A primeira história em quadrinhos começou no número seguinte, chamei-lhe “Piratas do Ar”, uma aventura de aviação.
A altura em que comecei a sentir-me mais seguro nesta profissão foi pelos anos 1950 no jornal “Cavaleiro Andante”, onde publiquei muitas histórias, e destaco “O Bobo”, de Alexandre Herculano, a “Peregrinação”, de Fernão Mendes Pinto, e “Ubirajara”, de José de Alencar.
(A essa altura, pede para não ser chamado de senhor, por isso você irá notar uma mudança no tratamento a partir desta pergunta.) Você mencionou os jornalinhos, que hoje se chamam fanzines. Achei interessante essa mudança de nome. Minha família é de Mangualde, e minha avó sempre se referiu às BDs como “histórias aos quadradinhos”. Hoje, vejo que o termo caiu em desuso em Portugal, que adotou “bandas desenhadas”. O sr. acompanhou o processo? E tem preferência por algum termo?
Realmente aqui em Portugal chamávamos de histórias ilustradas, ou aos quadradinhos, o que estava errado – pois as vinhetas não são todas em quadrados -, até que nos anos 60 do século 20, o Vasco Granja, um divulgador desta arte, agarrou no termo francês e começou a aplicá-lo. Pegou, pois a abreviatura é simples, BD, o que também acho errado. Banda Desenhada refere-se a tiras que os jornais publicavam diariamente, com histórias em continuação, e atualmente o que fazemos nada tem a ver com esse género de trabalho. Eu defendo desde há muito, que o melhor termo será Histórias em Quadrinhos, pois trata-se de pequenos quadros em sequência, como no Brasil também chamam de Literatura em Quadrinhos, o que ainda está mais correto.
Você também comentou que não podia viver de BDs no início da carreira. Em que momento você se sentiu um artista consolidado dentro das bandas desenhadas?
Pois ainda hoje é difícil viver-se de escrever e desenhar Histórias em Quadrinhos. As revistas acabaram dando lugar aos livros, e as editoras especializadas nesta área também se foram extinguindo. Eu só consegui passar a viver das “histórias” a partir de 1982, quando uma editora, a Editorial Notícias, ligada a um grande jornal, o “Diário de Notícias”, me convidou para o efeito. E a partir daí mantenho-me assim, e como tenho muitos livros publicados, vai sair este mês o 54º, e alguns com várias reedições, o pinga-pinga dos direitos autorais, juntamente com os novos que vou fazendo, dá para viver. Uma filosofia de vida compatível com o rendimento, claro, sem ambições desmedidas.
Quanto ao sentir-me consolidado, e se o termo se refere a uma posição de publicação permanente, sem falhas, isso aconteceu logo que iniciei a carreira, em 1944 n’”O Papagaio”, pois fiquei colaborador residente e depois em quase todas as revistas que se foram publicando.

Seres humanos mudam no decorrer da vida. No caso dos artistas, isso pode se refletir em sua obra. Você nota fases diferentes na sua carreira?
Naturalmente que quem trabalha em desenho, vai sempre modificando o que faz, pois eu iniciei o processo pela mão do Eduardo Teixeira Coelho e do mestre Rodrigues Alves, que foi meu professor na Escola de Arte, desenhando tudo do natural. Fiz um estudo intenso no Jardim Zoológico, durante dez anos, e especializei-me em animais, e ainda desenho com modelos vivos para as personagens.
Isso foi forçosamente alterando a técnica e a construção dos desenhos ao longo do tempo tentando melhorar o que fazia. Ainda hoje tento fazer melhor, mas como não me satisfaz o que realizo, insisto no próximo trabalho.
Aqui no Brasil, sempre houve uma discussão interessante sobre arte política e arte como escapismo. Isso se aplica com música, literatura, BDs, filmes… Existe essa mesma questão em Portugal? Você sentiu, em alguma fase da sua carreira, que deveria fazer arte mais ou menos politizada?
Quanto a mim, a Arte não se coaduna com a política, mas os Quadrinhos podem também funcionar como uma “arma”, como a música nas canções de intervenção ou nos filmes com argumentos em que denunciam situações.
Durante os meus primeiros 30 anos de trabalho, tínhamos a sombra da censura atrás de nós, proibindo tudo, até o que não era política, pois as vestimentas nas personagens femininas, tinham regras que controlavam o que se podia ver do corpo no boneco. Chegou a um extremo de nos desenhos não poderem aparecer personagens a apontar uma pistola a um parceiro.
Eu fazia um jogo de cintura para evitar o corte no que fazia. Em dada altura, em 1972, resolvi confrontar os censores, e fiz de parceria com o argumentista Paulo Madeira Rodrigues, uma história denunciando essa situação, uma crítica social e política da época. De tal modo construímos o enredo, que os censores nunca nos cortaram nada na publicação que saiu durante seis meses, semanalmente no vespertino “A Capital”. Depois da revolução de 1974, foi recuperada em livro.
Presentemente estou a contar todo este entrecho no “BDBDBlogue”, do Carlos Rico e Luiz beira, com imagens, aqui em Portugal.
Você consumia, ou consome, BDs brasileiras? Teria alguma preferida (ou algumas)?
Comecei nos anos 1940 a acompanhar o “Mirim”, o “Globo Juvenil”, até o “Tico-Tico”. Hoje acompanho e tenho livros, alguns oferecidos pelos autores, do Maurício de Sousa, Spacca, Lailson de Holanda Cavalcanti, do Fabio Moraes e dos autores brasileiros que o [editor] Rui Brito vai publicando aqui em Portugal.
Em 1989, tive a oportunidade de estar presente na Bienal do livro no Livro do Rio de Janeiro, quando Portugal foi convidado de honra no certame, e fiz ao vivo uma prancha sobre o “Caramuru”, e lancei aí o livro em português “O Bobo”, de Alexandre Herculano, o nosso romancista histórico.
Em 2000 fui apresentar uma exposição dos meus trabalhos em Piracicaba, e fazer uma permuta entre o nosso festival de HQ na Amadora e o de humor nessa cidade brasileira [o adorável Salão de Humor de Piracicaba].
Preferências pelo trabalho dos autores brasileiros, aprecio muito o Maurício de Sousa, claro, e também o Spacca. Mas tenho um carinho pelo Cavalcanti, porque ele trabalhou a obra “Os Lusíadas”, de Luís de Camões, e eu também, sem ficção, e com o texto original nos quadrinhos. É uma obra que atingiu já, em Portugal, 84.000 exemplares vendidos e está sempre a ser reeditado.

De qual trabalho você mais se orgulha?
Para dizer a verdade, não me orgulho do que faço, pois continuo a tentar o nível que prevejo ao iniciar cada história, mas que me decepciona ao terminar. Mas se pretender que mencione a que mais relevância tem obtido junto dos leitores, refiro “Os Lusíadas”, que tem já uma tradução para o mirandês, a nossa segunda língua oficial. O mirandês deriva do lionês, língua que se falava na região norte de Portugal junto à fronteira com Espanha, quando do início da nossa nacionalidade. Manteve-se sempre falada do lado de Portugal nessa zona, através dos séculos e agora foi considerada mesmo língua. [Uma curiosidade: eu tenho uma graphic novel que conta a história do idioma mirandês. Foi escrita e desenhada por… José Ruy!]
O que é mais difícil para você, enquanto autor de BDs? Escrever, desenhar, publicar? E o que é mais satisfatório?
Considero ser o mais difícil conseguir editores para a produção que me é possível fazer. Por isso tenho, até este momento, 13 editoras onde publico. Conforme o género de assuntos abordados, assim fui escolhendo, ou foram as editoras que me escolheram, para o efeito. Presentemente, algumas dessas editoras estão já desativadas mas foram surgindo outras.
Mas o mais satisfatório neste trabalho, quanto a mim, é ter a reação do público, que tem garantido sem interrupção a cadência de produção que mantenho.
Que BDs portuguesas, ou artistas portugueses de BDs, você consome hoje?
Aprecio, de entre os meus colegas portugueses de trabalho, o grande Eduardo Teixeira Coelho, o Luís Diferr, o João Amaral, o Nuno Saraiva, o José Pires, o Eugénio Silva, o Baptista Mendes e o Pedro Massano, pois sabem contar uma história em quadrinhos e executá-la de maneira compreensível e atraente.
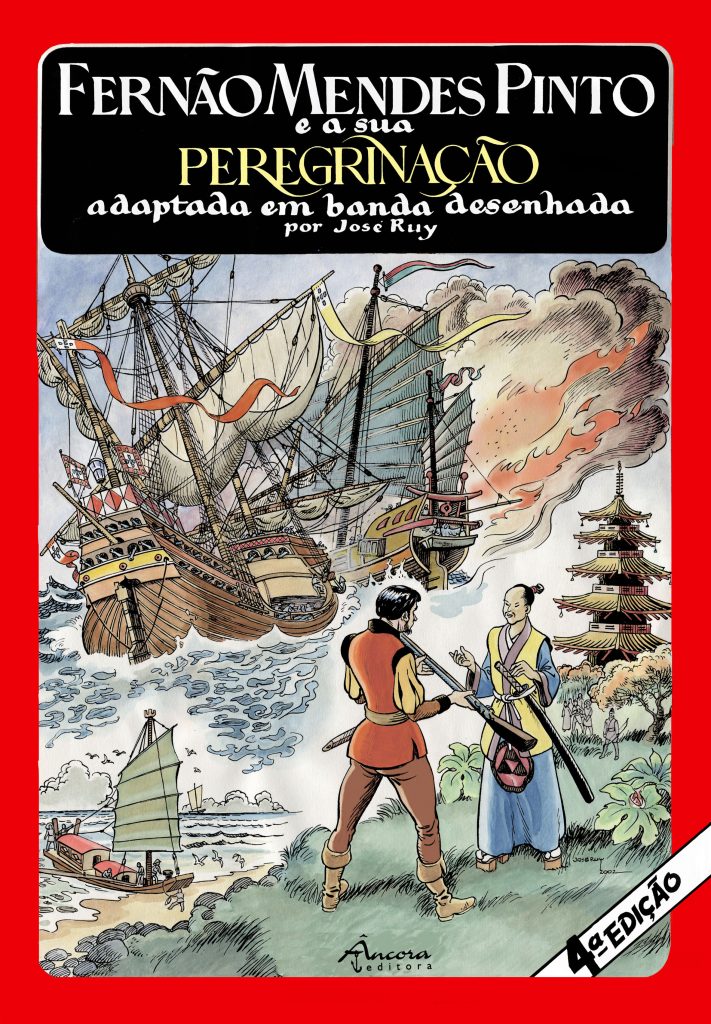
Que características são próprias das BDs portuguesas? Ou seja, o que elas têm em comum que, por exemplo, os distingue dos mangás e dos comics norte-americanos?
Vou dar-lhe uma resposta muito pessoal a esta sua pertinente pergunta, e a minha opinião vale só isso: o que caracteriza os quadrinhos de um país não é a técnica em que são executados, ou o processo de trabalho: são os temas abordados. Em Portugal, os Quadrinhos que focam temas portugueses, são os “nossos Quadrinhos”. No Brasil, os que divulgam e dão a conhecer a literatura brasileira, a vida do seu povo e os atos heroicos. E assim em todos os países. O português Eduardo Teixeira Coelho, enquanto trabalhou em Portugal, fez temas da nossa História e dos nossos autores literários consagrados, e quando se radicou em França e na Itália, desenvolveu os temas dessas regiões. Portanto, não há um estilo de um país, a não ser do Japão com as suas características dos traços fisionómicos, “mangá”. Quando autores de outros países do Ocidente copiam essa característica oriental, estão a fazer uma mestiçagem.
Você poderia indicar ao leitor do Hábito de Quadrinhos cinco boas BDs lusitanas?
Ora bem, cinco histórias em quadrinhos portuguesas que na minha opinião são de destacar:
- “A Lei da Selva”, de Eduardo Teixeira Coelho;
- “Alexandre Dumas”, de José Pires;
- “Inês de Castro”, de Eugénio Silva;
- “Bernardo Santareno”, de João Amaral; e
- “A Batalha de 14 de Agosto de 1385”, de Pedro Massano.
Quais são seus projetos atuais?
Presentemente estou a terminar uma história passada na Ilha Terceira, Açores, que sairá ainda este mês de outubro de 2020: “O Heroísmo de Uma Vitória”. Tenho, entretanto, em carteira vários títulos já desenvolvidos e esboçados, há espera de editor.
Qual o segredo para estar ativo aos 90 anos?
O meu “segredo” em estar ativo aos 90 anos? É simples: consiste em conseguir acordar todas as manhãs, manter boa saúde e vontade para criar. O resto vem por arrasto.



